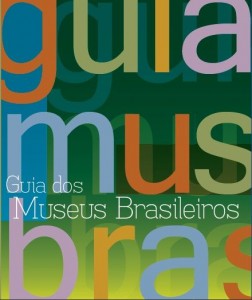Tão difícil desenhar uma paisagem
e, no entanto, há quem o faça... Tento desenhar com palavras e às vezes com
fotos, imagens que nascem de um enquadramento. Tentarei aqui compor um quadro.
Estou em frente ao Instituto de Geociências da Universidade de Vila Real.
Infiltrei-me como ouvinte por um dia, isto é, paguei por isso e caro, devo
dizer. Minha intenção é simplesmente assistir à I Mostra de Filme Etnográfico.
Havia tentado inscrever um curta-metragem (Agora você é índio) realizado com
alunos e professores do Instituto de Educação e indígenas da Aldeia Maracanã sobre
o choque cultural dos não indígenas quando convivem com esse outro que
genericamente chamamos de índio. O filme não foi aceito. Como eu iria de
qualquer maneira para Portugal e para o norte justamente, infiltrei-me, atiçada
pelo desejo de saber o que faz com que um filme seja classificado como
etnográfico.
Lição 1
Depois de assistir o primeiro
filme do dia – Aqui tem gente (18’03”, 2013), de Leonor Real –
coincidentemente também sobre uma ocupação (tal qual os indígenas no prédio
abandonado do antigo Museu do Índio no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro),
ensaiei uma primeira conclusão a respeito dessa designação – etnográfico. Pareceu-me
que um etnógrafo assume o compromisso de descrever realisticamente uma
situação. Acho até que a etnografia (irmã mais nova ou um mero instrumento da
Antropologia?) surgiu no mesmo período do realismo e do naturalismo como
movimentos literários já que teria como premissa a descrição. No entanto, seria
possível também ao etnógrafo recorrer à observação participante, pela qual se
permitiria a identificação com os sujeitos observados, tal qual um narrador que
para ser mais fiel aos acontecimentos procurar assumir a perspectiva de um ou
mais personagens.
Em relação ao Aqui tem
gente, o documentário acompanhava o
processo de desocupação de uma pequena favela habitada por negros vindos das
antigas colônias portuguesas na África e por ciganos, grupos momentaneamente
identificados pela grave situação que enfrentavam. Mas a personagem central era
Rita, a própria observadora, apresentada como uma ativista, uma liderança
mediadora entre o mundo dos brancos e o dos desgraçados. (Ela seria aquilo que
Gramsci classificou como intelectual orgânico.) A câmera apenas presenciava as
cenas. Rita, por recusar o papel de heroína, não desempenhava o papel de uma
personagem clássica, nem moderna tampouco, por não expor a sua subjetividade e
seus conflitos. E esta foi a lição 1.
Lição 2

Quanto ao vídeo seguinte, A
minha família na luz (18', 2011), de Fabienne Wateau – um curta-metragem que brinca
com o intrincado sistema de parentesco exposto por membros de uma família, uma
grande família em uma pequena cidade, a pedidos de uma jovem de 15 anos – a
lição possível é: filme etnográfico tem de ser feito por antropólogo (ou
cientista social). Por conhecer a teoria, o tema, a vibração do antropólogo
pela estrutura do parentesco, a diretora pôde brincar com a questão. No
entanto, durante o debate final, Fabienne afirmou que sua intenção não era
fazer um filme sobre o tema, nem pretendia ser fiel à teoria, mas simplesmente (e
aí vem a etnografia) mostrar algo que se fez evidente em sua aproximação com os
moradores da tal cidadezinha. Sua intenção era, ao conhecer o parentesco de uma
determinada família, estabelecer uma rede de contatos e facilitar a sua
pesquisa. A entrega do papel de condutora à adolescente Vânia foi realmente
inteligente. Como moradora da localidade, sabedora de todos os códigos de
abordagem e conhecedora de todos os endereços ela era a mediadora ideal. Podia levar
a pesquisadora a todas as casas de seus muitos parentes, abrindo-lhe as portas
da intrincada rede de informantes com a seguinte pergunta: “a senhora aqui quer
saber o que a senhora (ou senhor) é minha (ou meu). Por que somos parentes?
Qual o nosso grau de parentesco?” Bem interessante e simples. Em geral, os
entrevistados conheciam até a terceira geração e, em resposta à menina,
desfiavam os elos da parentalha, com frases como “sou filho do seu tio-avô
então sou seu primo de segundo grau” (era mais complicado do que isso).
Impossível acompanhar a lógica estruturante do parentesco com suas diferentes
designações e conclusões traduzidas pelos termos apropriados. O resultado,
porém, era divertido. Fazia como um bordado com a língua e com a linguagem
armada pelas relações de parentesco – tema muito caro aos antropólogos.
E esta foi a lição 2: um filme
etnográfico se acerca de temas da antropologia de um modo mais ou menos focado,
isto é, abre o leque para temas correlatos ou centra-se em uma questão muito
específica, e – tal qual o primeiro filme – de maneira isenta, eminentemente
descritiva. Assim, interpretações são possíveis mas a partir de uma exposição
direta, com o mínimo de ambiguidades.
Lição 3

Do terceiro filme, Voices from
the tundra – the last of the yukagirs (66', 2013), de Edwin Trommlen, a lição que
fica pode ser resumida em duas palavras: “pressa nenhuma”. Mas poderia ser
também “incrível empenho” ou “esforço descomunal”. O filme acompanha a viagem
de uma linguista, Cecília Odé, uma holandesa com mais de 45 anos de estudos das
línguas eslavas que sofre de um câncer nos pulmões e que aproveita um período
de melhora para revisitar os yukagirs na gélida tundra. Com a incrível paisagem
toda branca como pano-de-fundo e sob uma temperatura de cerca de menos de 20
graus, presencia-se um tipo de vida em extinção, levada por falantes de uma
língua que por muito tempo foi proibida pelo governo soviético. A relação de
Cecília Odé – a narradora do filme – com
os yukagirs é profundamente amorosa. Não se nota de jeito nenhum qualquer
distanciamento entre a etnógrafa e a cultura pesquisada. As pessoas que nela
nasceram são mostradas como co-pesquisadoras, sendo Cecília aquela que faz a
ponte entre eles e os fundos que custeiam a publicação de livros e a edição de
CDs em sua língua, de modo a prestar um serviço de preservação e de divulgação
não só em outros países como no próprio lugar onde canções, hábitos e vestes
tradicionais tendem a desaparecer. (Estamos pois diante de uma variante mais
cultural do que política do já citado intelectual orgânico gramsciano.) O filme
não tem pressa nenhuma para acabar. Toma um pouco mais de uma hora e o público
que o assistia, muito pequeno, como uma minoria perdida no meio da agitação de
um congresso com cerca de 500 inscritos, mingua-se ao ponto de, no final,
contar apenas com umas dez pessoas na plateia. Mas isso não parece importante,
as imagens são bonitas e envolventes, com muitas renas, muitas vestes coloridas
e sobrepostas, faces queimadas pelo gelo, risos, cantos e afagos, ainda que a
narradora de onde sobressai toda essa riqueza tivesse pele clara e olhos azuis.
Ela parece ser a personagem principal. Será isso uma distorção, uma contingência
(já que o filme se dirige a um público mais próximo ao que ela representa) ou a
representação de um exemplo de coragem e desprendimento?
Antes das lições finais
Ainda nesse dia, à noite, a fim
de aproveitar até o final minha precária participação como ouvinte dessa
Mostra, fui a uma sessão na qual dois curtas seriam exibidos num teatro um
pouco afastado do centro de Vila Real. O lugar, recém-construído, exalava a
nada. Era mais um desses prédios feitos com muito dinheiro, com espaços amplos
a perder de vista onde não se vê viva alma. Tanto que, ao chegar ao mesmo tempo
que um jovem e duas moças, parecíamos sermos os únicos que optaram por
abandonar a agitação dos antropólogos em restaurantes e em hotéis da cidade
para assistirmos à sessão programada. Mas não, ao entrarmos na sala de
exibição, outras pessoas já estavam lá, ouvindo um artista que falava sobre o
modo de fazer do artista quando em relação com uma comunidade, isto é, quando
uma comunidade é o seu foco. Sua fala, que introduzia a exibição de um curta
performático com uma figura de mulher
fantasmagórica a vagar por uma das muitas aldeias desertificadas em
Portugal, estava no final. A atmosfera do filme era sinistra. De fato, exalava
dela um abandono e ecos de um passado extinto, tristemente extinto. Na última
cena, no entanto, a mulher que antes aparecia o tempo todo envolta em uma capa
negra, aparecia subindo degraus no meio das ruínas, ascendendo rumo a um lugar
inexistente, toda vestida de branco. Ao acender as luzes, o artista
apresentou-se novamente para responder possíveis perguntas, mas o silêncio foi
fatal. Creio que a plateia estava preparada apenas para ver filmes etnográficos.
E aquele era um filme artístico... Um pouco constrangido, o artista escapou
rapidamente e então eu soube – ao apresentarem a exibição dos dois curtas
programados – que aqueles jovens com os quais entrei e que se sentaram ao meu
lado, eram os diretores dos filmes.
Lições 4 e 5

O primeiro deles, Este é o meu
cabelo (2012), de Hellington Vieira, durava apenas onze minutos. Tinha sido o
trabalho de conclusão de um mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Parece que
há ali muita pesquisa em antropologia, em cultura, em literatura tradicional.
Então, quando o filme começou, a impressão que me deu é que a sua linguagem se
assemelhava a de um filme de ficção. É importante frisar o verbo “se
assemelhava” aqui, pois, posso estar enganada, mas um filme etnográfico mantém,
em relação a essa linguagem, uma distância estratégica; seu compromisso maior é
para com a ciência, ainda que ela possa ser oxigenada por um fazer no qual as
fronteiras entre sujeitos e objetos tenham sido borradas pelo reconhecimento de
um protagonismo daqueles que antes eram vistos como objetos de estudo e da
necessidade de constante questionamento e deslocamento das fronteiras onde os
pesquisadores costumavam se colocar em situação de suposta neutralidade. O
filme Este é o meu cabelo não tem narração. A personagem principal, uma moça
da Guiné-Bissau, estudante em Coimbra, aparece na tela a esquentar água, a lavar
roupa, a estendê-la no varal. Ela é magra, negra e sua roupa não traz nenhum
traço distintivo. Então, é claro, a observação recai sobre o seu cabelo. Aquele
era o seu cabelo: curto, alisado, um pouco arrepiado, sem estilo definido. De
vez em quando, ela se encaminhava até a câmera e a endireitava. Depois, durante
o debate, ficamos sabendo que a moça trabalhava num salão de cabelereiro e que
o diretor, por não poder filmar lá dentro, havia emprestado a câmera para que
ela mesma fizesse a gravação. Contudo, ela escolheu se filmar na lida doméstica.
Intercala-se a essa cena, uma outra que registra a chegada da moça em um pátio
onde ela irá colocar apliques de cachos louros e castanhos dourados. Enquanto
ela está lá sob os cuidados de uma e depois de mais uma moça, ambas também
negras, a câmera grava o seu depoimento – quem é ela, quais os seus planos,
entremeados de comentários acerca da sua recusa em relação à cultura europeia.
Para namorar, por exemplo, só aceita negros pois com brancos o clima parece ser,
segundo suas palavras, de um curso por correspondência. Enquanto isso,
esticando-se de lá, puxando-se de cá, aos fios negros de seu cabelo vão sendo
enrolados os cachos de fios de seda. Ouve-se então o comentário central de seu
depoimento – com o tempo, ela tinha percebido que jamais seus cabelos seriam
lisos como ela acreditava poderem ser um dia. Enfim, reconhecia, aquele cabelo
arrepiado que ela procurava ocultar é que era o seu cabelo.

Sem querer apreender por ora uma
lição deste filme, adianto aquele que foi o último filme do dia e da minha
participação como ouvinte nas plenárias promovidas ao final das sessões: Apanhados na rede (58'10", 2012), de Amaya Sumpsi.
Esse aproxima-se em alguns pontos com o dos yukagirs, comentado anteriormente.
A narração, antes evitada pela diretora, de acordo com depoimento seu durante o
debate no final, acabou sendo feita por ela mesma, e em espanhol, sua língua,
apesar do filme se passar em uma pequena baía, Porto Formoso, nos Açores. Nada
de distanciamento e também pressa nenhuma. Parece que sua primeira aproximação
com o lugar e com pessoas da comunidade pesqueira, quase que exclusivamente
masculina, se deu em 2009 ou 2010. Em quase uma hora, o filme testemunha as
mudanças na atividade pesqueira mas sobretudo o que permanece e subjaz na
dinâmica de transformação da paisagem em relação à prática dos pescadores. O
clima é poético, a voz da narração, pela entonação e pelo texto, parece
segredar a importância dessa convivência principalmente para a diretora do
filme. Desfilam personagens, depoimentos, pacientemente colhidos e editados,
tomados e obtidos graças a uma relação de afeto estabelecida entre a
pesquisadora, se assim se pode chamar a diretora, e os pesquisados que, na
verdade, são os condutores do roteiro que, na verdade, é ditado pelo curso da
própria vida em sua realidade cotidiana ao longo de dois anos. Amaya, sabe-se
depois, não é formada em Ciências Sociais. Sua formação é em Cinema, mas o que
a fez ingressar num mestrado na área de Antropologia foi o fato de estar
perdida entre muitas horas de gravação, sem saber como costurá-las e finalizar
o seu filme. Por sua vez, Hellington diz que também sem saber como transformar
suas ideias em um filme, recebeu de sua orientadora a indicação de que o
concebesse como se ele fosse um filme de ficção. A lição final, portanto,
refere-se a essa difícil tessitura entre a linguagem etnográfica tradicional e
aquela que se vale dos ganhos do cinema de ficção. Ou seja: todos gostamos de
histórias, personagens, conflitos e resolução de conflitos. No caso desses dois
filmes, há também um óbvio aporte do cinema de arte, principalmente o primeiro
(já que Hellington diz ter se inspirado no último filme de David Lynch, “Inland
Empire”), com enquadramentos, modos de narrativa e edições inesperados que mostram mas não explicam, o que contribui
para que o clima de abertura e de múltipla interpretação da poética no cinema
possa ser absorvida também pelo filme etnográfico.
Possível conclusão
Talvez, e é bom frisar essa
palavra, talvez o que defina esse tipo de filme, em oposição ao filme de
ficção, seja a origem das imagens. Assim, num filme etnográfico, o imaginário a
ser focado – apesar do pesquisador poder se permitir uma aproximação mais forte
e afetiva ao longo do processo – deve vir de um outro, de uma outra cultura, de
um outro personagem, de um outro lugar, de uma outra língua. Ao diretor caberia
apenas testemunhar esse outro que se desvela, seja assumindo-se como ativista,
pesquisador, estudioso, diretor de arte ou mediador, a fim de que esse outro
possa ser o mais inteiro possível em sua alteridade.
Bia Albernaz
***
"Ma parenté au village" (O filme de Fabienne Wateau está acessível no site do CNRS -
Centre National de la Recherche Scientifique)